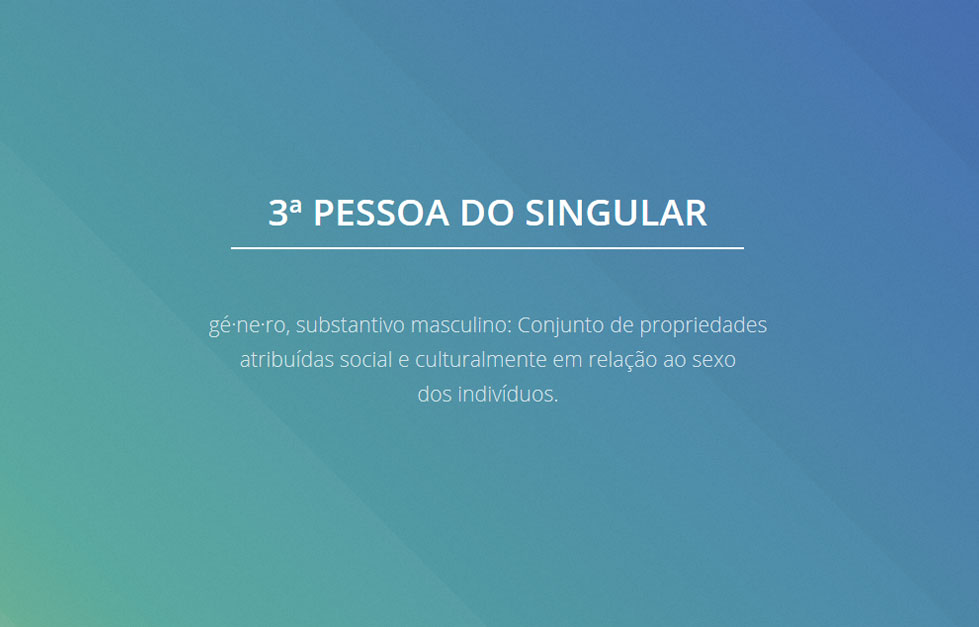Do inferno fez força: Jessica Lynn é uma mulher que corre o mundo a contar aos outros os muitos lados que tem. Mais do que a história de uma mulher transgénero, na FPCEUP, relatou perdas e vitórias em torno da construção de quem é.
O riso alto faz-se notar. Os cabelos compridos, de um loiro claríssimo, escorrem-lhe para a cara enquanto fala. Jessica Lynn vai ajeitando-os com os dedos. “O meu problema não é com a minha vida. É com os outros”, atira.
Hoje, Jessica Lynn é uma mulher que não passa despercebida, mas não foi sempre assim: nasceu Jeffrey Alan Butterworth, nos Estados Unidos, nos anos 60. Mais de meio século passado, Jessica divide agora o tempo entre palestras nas mais importantes universidades do mundo e a construção civil na Califórnia, onde trabalha por temporadas, como hobby, diz, e como forma de arranjar algum dinheiro.
“O meu nome é Jessica Lynn, e esta é a minha história”, declarou à assistência no Auditório 1 da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), numa conferência inserida no II Seminário Internacional do Programa Doutoral em Sexualidade Humana, decorrido naquela instituição em setembro.
“Ninguém aqui é igual. Todos nós confiamos uns nos outros de modo diferente; todos nós gostamos de pessoas diferentes; todos nós ouvimos músicas diferentes. É possível identificar a diferença. E isso aplica-se, também, à comunidade transgénero: não existe um caminho certo nem um caminho errado para sermos nós mesmos”, rematou perante uma plateia cheia de estudantes.
À margem da conferência, explicaria ao JPN porque prefere falar nestes contextos: “Não vou muito aos media, não apareço em revistas, televisões e assim, mas sinto que vir falar frente a frente com estudantes é a melhor forma. Tê-los a questionar-me, a ter conversas individuais comigo, é assim que mudamos”, refletiu.

Jessica Lynn contou a sua história na FPCEUP. Foto: Isabella Rabassi
Contar a história de Jessica Lynn não é suposto ser uma cronologia dos desastres da vida de uma mulher que antes de nascer já foi homem. Nem é esse o objetivo. O que ela quer, diz-nos, é que ninguém tenha de passar pelo mesmo; que ninguém tenha de ver um tribunal apagar o seu nome da certidão de nascimento de um filho, só por estar a reclamar o género com que se identifica.
“Sou feliz sendo eu, não há nada de errado em mim. Tenho um problema com o facto de a sociedade não me aceitar por ser eu. O meu problema não é ser transgénero; o meu problema é a sociedade não me aceitar por ser transgénero”, dir-nos-ia no dia seguinte à palestra num café junto à Reitoria. Na véspera, contara na FPCEUP a sua história.
Cortar o mal pela raiz
Aos quatro anos, percebeu que estava no corpo errado. “Eu queria ser uma menina, e isso não fazia sentido. Na altura, corria o ano de 1968 e eu regressava da escola com a minha amiga Michelle. Íamos para a casa dela e brincávamos às bonecas, às festas de chá, ao pronto a vestir”.
Não sabia como falar disto com a mãe, o pai ou os irmãos. Mas punha-se a pensar no que lhe dizia a mãe, católica: “Jeff, se rezares o suficiente, Deus moverá montanhas”. Passou noites a implorar aos céus, que a ouvissem, “noite após noite, dia após dia. Depois acordava e ainda era um menino – e tudo se tornava cada vez mais difícil, destruindo-me aos poucos”.
Pelo caminho, foi arranjando distrações: insetos. Toda uma coleção de bichos, desde grilos, minhocas, gafanhotos, joaninhas – até baratas. E lagartas. As lagartas eram para ela uma metáfora: “um dia vou transformar-me numa bela borboleta”, acreditava.
Esse dia, constantemente adiado, demorava-se. E a oração mudava: “Deus, se não me podes transformar numa rapariga, ao menos leva-me esta vontade de ser uma para longe”.
O sentimento adensa-se. Aqui no Porto, a voz de Jessica vai tremendo no relato: “Aprendi a diferença entre rapazes e raparigas por volta dos sete anos”, explica. “Os rapazes têm um pénis, as raparigas não. Se me livrar desse pénis, serei uma rapariga”, pensou.
Foi por volta dessa idade que escondeu uma lâmina na cama e tentou cortar o próprio pénis. “Não fui muito longe, como podem imaginar”, diz.
Gerir o pensamento
Deus não foi solução. Tampouco a lâmina e o corte a frio da própria carne. Restava gerir a vontade. Se o sentimento não pode ser calado, que se grite mais alto para que se não oiça. Dos animais, Jeffrey passa para a fotografia; da fotografia, para a pintura. Mais alto o sentimento, maior a necessidade dos mecanismos de gestão: “comecei a pintar, pintar, pintar. Atrás do cavalete, de pincel na mão, não penso em ser rapariga”.
A casa dos pais encheu-se de quadros. As casas dos amigos dos pais encheram-se de quadros. Era a fuga da realidade, recorda.

Jessica Lynn na FPCEUP. Foto: Isabella Rabassi
Os pais vigiavam de longe: desde cedo que sabiam da disforia de Jeff. Quando ele era ainda muito jovem, lá para os quatro ou cinco anos, chegaram a falar com John Money, eminente médico daquelas décadas.
Mas ele defendia que a criança se transforma naquilo para que é educada. Ou seja, se os pais de Jeffrey o criassem como um rapaz, seria num rapaz que ele se transformaria. Assim fizeram.
Só aos 23 anos soube desta história. A teoria caiu por terra. David Reimer, espécie de cobaia inusitada do médico norte-americano, foi talvez a sua mais mediática vítima.
“Deixem as crianças ser crianças!”, enfatiza agora ao JPN. “Brinquem como quiserem, vistam-se como quiserem… Não há pronomes masculinos, nem femininos. Quero perder todas as etiquetas e ficar apenas com uma que diz ‘Humano’ – esse é o meu grande sonho”, diz.
Um sonho que Jessica não viu concretizar-se em criança, quando ainda era Jeffrey. Começou a jogar à bola, lá no início da adolescência. A vontade de esquecer os pensamentos de querer ser rapariga cresceu de tal forma que se tornou num ótimo jogador, com olheiros nacionais a convidá-lo para representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos.
Aos 17 anos, conheceu Barbara. Tornaram-se melhores amigos – e, depois, namorados. Jeff não entendia completamente a sua sexualidade. “Sentia atração por todos os meus colegas de equipa. Bom, todos exceto o Alberto”, conta.
Barbara permitia-lhe estar confortável. A jovem sabia das suas dúvidas e incertezas, mas decidiu que gostava demasiado de Jeff para não o aceitar incondicionalmente. No Natal de 1984, Jeff pediu-a em casamento.
“Jeff, não sou lésbica, mas se precisas de ser uma mulher, ficarei na mesma contigo. Não consigo viver mais um dia sem ti”, disse-lhe Barbara, depois de, em 1985, se terem afastado por causa da crescente ânsia de Jeff querer ser quem sentia ser: uma mulher.
Perto do Natal desse ano, o desastre: uma mulher embriagada e sob o efeito de drogas colide com o carro onde Jeff e Barbara seguiam. Ele “morreu” quatro vezes no helicóptero a caminho do hospital. Ficou em coma. Barbara morreu mesmo.

Jessica Lynn na FPCEUP. Foto: Isabella Rabassi
Jeff ficou com vida, mas não vivia. Ia durando, à espera de uma luz que nem sabia onde procurar. Começou a beber cada vez mais; consumia drogas. Tentou o suicídio mais de uma dúzia de vezes.
“Durante este período, devo ter dormido com 30, 40, talvez 50 mulheres. Tentava curar-me. Isto não fazia sentido. Estava já em 1986, 1987, um ano e meio após a morte”, conta.
Em junho de 1987, os pais chamam-no à vida. Revelam-lhe que sempre souberam e explicam porque não fizeram nada. Jeff contou aos pais quem se sentia – e viu-se livre. Nunca mais tocou no álcool, nunca mais pegou em drogas. “Já não precisava desses mecanismos para lidar com a situação”, lembra, antes da piada: “ainda meto uns ácidos às sextas, mas isso é diferente”, brinca, arrancando gargalhadas que quebram a tensão do auditório.
Hoje, Jessica olha para jovens transgénero e sente a emoção de poderem ser livres. “Quem me dera”, diz, sem inveja ou vontade de alterar o passado. Porque foi esse passado, foram essas circunstâncias que por fim lhe trouxeram o maior tesouro: os três filhos.
Renascer
“Passei alguns anos a perguntar-me ‘faço a transição?’”. A certeza vem por vezes, mas esvai-se rapidamente. “No final dos anos 1980, já há médicos, há cirurgiões – mas o processo é caro. Por isso, pus-me a trabalhar nas obras no sul da Califórnia e comecei a juntar dinheiro para a minha transição.”
No sul, conheceu Rachel: “Ficámos amigos. Expliquei-lhe que queria mudar de sexo e ela disse ‘vou ajudar-te na transição’.” Trabalhavam juntos, passeavam juntos, aprendiam juntos — e acabaram por dormir juntos. “Lembro-me de que na primeira vez que dormi com ela fingi que estava com o irmão (e o cabrão era feio!)”, conta.
A relação foi-se arrastando. Rachel engravida. “Tivemos uma longa conversa e ela diz ‘podes ir em frente, criarei esta criança sozinha’. Eu disse que não, ‘não vou deixar que uma criança venha a este mundo sem pai’. Adiei a transição.”
Casaram em março de 1991. O filho nasce a 18 de agosto desse ano. “Não sou o melhor marido, mas sou o pai perfeito: não queria que o meu filho fosse criado por uma baby-sitter. Então, a Rachel ficava em casa, enquanto eu trabalhava.”
Bradley foi o segundo filho. A relação com Rachel não é pacífica e, pelo meio, ela sai de casa com os filhos. Reatam no natal de 1998 – pouco depois surge Curtis, o terceiro filho do casal.
“O menino mais adorável de sempre entra nas nossas vidas e voltámos a juntar-nos, mas não a casar. Comprámos uma pequena casa juntos. Vendemos a nossa casa antiga e fomos para norte, para um lugar chamado Santa Maria. Ela começa a trabalhar, eu continuo a trabalhar”, prossegue.

Jessica Lynn Foto: Pedro Soares Botelho
A vida avança, “comprámos uma casa maior juntos, pagámos 332 mil dólares. No dia em que fechámos o contrato, ela despede-se do emprego, o que significa que eu agora tenho de estar a trabalhar constantemente. E a nossa relação começa a degradar-se”.
“Um dia chego a casa e ela vira-se: ‘Olha, Jeff, vai-te foder’. Desta vez, pega no filho mais novo e sai de casa. Disse para eu criar os outros dois rapazes, que ela criava o Curtis. Deixou-nos. Pedi-lhe que não separasse os nossos filhos. ‘Tu vives a tua vida, eu vivo a minha’, disse-me ela antes de sair”.
Jeffrey pediu a guarda dos três filhos. Desenrolou-se uma batalha legal de três anos e 65 mil dólares. Foi avaliado por médicos, viu-se escrutinado. Mas em agosto de 2007 chega a decisão: a guarda total das três crianças.
Depois de mais um acidente, que deixou Rachel de cama, o casal volta a aproximar-se. “Eu deixo-a voltar a casa. Mudamo-nos para outra zona, para que ela pudesse estudar para ser higienista oral. Arrendámos uma casa com cinco quartos. Ela estava num quarto, eu estava noutro e os nossos filhos tinham um quarto para cada.”
“Começámos a planear a minha transição e fizemos um acordo: ela disse que podia contar ao Jeffrey e ao Bradley, mas que tinha de esperar até o Curtis ter 12 anos”, conta.
Surgem novamente as incertezas. Já com Rachel e os filhos no Texas, à espera dele, Jeff afunda numa espiral de dúvidas. Acaba no hospital. O médico pergunta: vale mais “um pai que é uma mulher, ou um pai morto?”
A resposta nem precisa de ser enunciada. Jeffrey fez a transição e renasceu. Mas o renascimento chocou com a justiça texana.
Jeffrey já não o é mais. Agora, é Jessica Lynn. Lynn como Barbara, que homenageia no nome. Jessica viu um juiz do Texas ameaçá-la com prisão caso tentasse voltar a falar com o filho mais novo.
Curtis acabou por ficar legalmente sem pai. Rachel conseguiu que o nome de Jeffrey fosse apagado da certidão de nascimento do filho. “Agora, quando olho para o perfil no Instagram do meu filho… Curtis Skelton. Usa o nome de solteira da mãe. Isto parte-me o coração. O nome dele é Butterworth. Ela mudou o nome dele só porque sou transgénero”, lamentou já na conversa com o JPN.
Jessica mantém a esperança de um dia voltar a estar com Curtis. Atualmente, mantém apenas a relação com o filho mais velho, Jeffrey. Não sabe se Rachel tem consciência de que agora anda pelo mundo a contar aquilo que andou para ser quem é; para poder ser quem é.
Do inferno à redenção
Desaparece alguma coisa quando o pronome muda de género? Morre o eu anterior quando nasce o eu posterior? Jessica crê que não. Pois que o eu antigo ali permanece, vivo e ator de coisas boas. Também de coisas más, mas fabricante das memórias e das experiências que a acabaram por construir.
A construção de Jessica é plena de perdas. Andou metade da vida perdida, sem perceber o que era aquilo que ia sentindo. Depois, perdeu Barbara, que a compreendia. E quando finalmente se começou a encontrar e compreender, perdeu os filhos, levados pela justiça do Texas.
Todavia, continua a achar que teve uma vida incrível. E não quer usar a sua história como um exemplo, mas como um instrumento para contar mais histórias. Fala como se gritasse para todos os ouvidos que a queiram ouvir: “estou aqui e sou quem quero ser”. Porque a batalha parece ser só pela liberdade de ser quem se quiser ser.
“Todos nós somos indivíduos – e isso é algo que eu quero que retenham nas vossas cabeças. Todos fazemos parte de uma comunidade muito fluida: ninguém permanece o mesmo. Eu conheço pessoas que fizeram a transição do sexo feminino para o masculino e se identificaram, posteriormente, com o género não conforme. As coisas mudam. Os nossos corpos são muito fluidos”, adverte.
Neste caminho, “as histórias pessoais acabam por ser uma das melhores formas de ajudar as pessoas a entender o que significa ser transgénero”, explica. “Então, quando vocês saírem daqui, terão ouvido uma – e apenas uma – história. Mas isso não significa que, embora inserida numa comunidade, seja a mesma pessoa que as outras pessoas que a ela pertencem. É certo que há muitas semelhanças entre mim e muitas mulheres transgénero da minha idade; no entanto, todas somos diferentes”, sublinha.
O caminho diferente que trilhou, contudo, vai já calcado para que outros o possam seguir. E mesmo que não o sigam do modo que leva, ao menos que falem dele: “As mudanças não acontecem de uma hora para outra. Temos de falar e falar. Uma vez por semana, duas, 10. Até ser normal para todos.”
Normal não porque haja anormalidade no caso. Longe disso. Jessica não vê qualquer problema em quem é. Sequer em quem foi.
“Há duas formas de olhar para isto: tive uma vida difícil, mas foi uma vida belíssima. Amo a Barbara, tenho três lindos meninos, fui ao inferno e voltei – mas não mudaria nem um minuto desta vida, porque foi incrível”, concluiu.
Artigo editado por Filipa Silva