Do jornal à televisão, da agência à rádio, o JPN esteve à conversa com cinco jornalistas para perceber o que mudou e o que tem de mudar para que o jornalismo se continue a fazer em tempos de pandemia e para além dela.
Da redação para casa: com a pandemia da COVID-19 em Portugal, as televisões, rádios, jornais e sites esvaziaram as suas instalações para cumprir as regras do distanciamento social. Para isso, os jornalistas tiveram de se adaptar a novas rotinas e a novas formas de trabalhar.
Com a crise sanitária, agrava-se, no entanto, a depressão que os media já sentem desde o princípio do século. A quebra nas receitas publicitárias e nas vendas em banca é um novo desafio num setor cheio deles.
Entre a precariedade laboral e as novas formas de fazer conferências; entre a falta de conteúdos e os jornais monotemáticos, o JPN falou com cinco jornalistas para saber como a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) afeta as práticas, mas também as mentes da comunicação social.
A par com o mundo, em modo remoto
O teletrabalho já era “uma coisa mais ou menos normal” para Paula Caeiro Varela. A repórter parlamentar da Renascença passa mais tempo no Palácio de São Bento do que na redação. É na Assembleia da República que acompanha diretamente a atividade do hemiciclo.
Com o intensificar da pandemia de COVID-19, a morada de todos os dias deixou de o ser. Quando não está na sede da Renascença, na Estrada da Buraca, em Lisboa, o trabalho faz-se à estrada e chega à jornalista de Política de uma outra forma: através do correio eletrónico, que Paula abre em casa. “O computador está aqui, o gravador está aqui, o e-mail está aqui, é fácil enviar trabalho e ele não para de acontecer”, conta ao JPN.
O volume de informação “aumentou” nos últimos tempos, reconhece. A jornalista descreve-o como “gigante”, o que “significa que o volume de trabalho também” o será. Ainda assim, a jornalista salienta que tal “faz parte de quem trabalha em informação” e “não há como não ser assim”.
“Como a informação não para, não dá para dizer ‘okay, já fiz, hoje já está, vou desligar’ – é impossível. Porque, mesmo quando desligo, estou a ver qualquer coisa, ou estou a ouvir rádio, ou o telefone toca; há um e-mail que entra a dizer que vai acontecer alguma coisa. Nós paramos aquilo que estamos a fazer e vamos despachar aquela informação primeiro”, sublinha a jornalista.
Ao contrário dos noticiários da rádio, nos quais a informação é atualizada de meia em meia hora ou de hora a hora, a componente online tem de ir sendo alimentada minuto a minuto. A tratar da cobertura informativa do site, está uma “redação própria” com pessoas “só dedicadas ao digital”, começa por referir Paula Caeiro Varela. No entanto, tempos de emergência requerem um esforço conjunto de todos os jornalistas da Renascença: “Estamos todos a tentar também dar contributos”.
Outra das práticas que está a ser seguida pela emissora católica e por vários órgãos de comunicação no país consiste na rotatividade dos profissionais da informação. Há “uma equipa muito reduzida” que ainda está na rádio e outra que fica a trabalhar a partir de casa. Depois, as equipas trocam. O objetivo é garantir, em caso de contágio, que toda a redação não fica infetada com o novo coronavírus.

Saídas em reportagem ainda existem, “mas com cuidados que normalmente não tínhamos”, admite a jornalista. “Continuamos a tentar fazer isso, a tentar ver como é que é o mundo lá fora e contá-lo”.
Paula Caeiro Varela considera que a crise que hoje se sente é, em termos de conteúdo, “diferente de tudo aquilo que já se viveu em informação em rádio”. Nem mesmo o impacto de outros acontecimentos, como a guerra do Iraque ou o 11 de setembro, se equipara ao da pandemia de COVID-19. O ataque terrorista às Torres Gémeas “consumiu muito tempo da informação e muitas horas de rádio”, mas “mesmo esse não foi durante tanto tempo o único tema ou quase o único tema tratado”, sublinha Paula Caeiro Varela. A informação de hoje está “quase monotemática” porque “quase tudo gira à volta” da COVID-19.
As conferências de imprensa, seja as da Direção-Geral da Saúde (DGS) ou as do Conselho de Ministros, são asseguradas com a maioria dos jornalistas à distância. Nas conferências da DGS, as questões dos jornalistas que não estavam no local eram enviadas por mensagem de texto e lidas por um elemento da secretaria-geral do Ministério da Saúde. Já no Conselho de Ministros, eram os próprios jornalistas a fazer a pergunta em direto, via Zoom. A partir da passada quarta-feira (01), as perguntas nos balanços diários da DGS passaram a ser também colocadas por vídeochamada, mas não é a mesma coisa.
Ao JPN, Paula Caeiro Varela destaca a impossibilidade de “réplica” nas conferências de imprensa do Conselho de Ministros. Para a jornalista, há casos em que a pergunta não é “compreendida totalmente” ou então é o interlocutor que responde “só aquilo que interessa dizer”. “É legítimo, mas faz muita diferença essa parte de não haver interação”, assinala.
Este é só mais um dos desafios que os jornalistas enfrentam em tempo de pandemia. Uma coisa a juntar a todas as outras que emperram o trabalho. Equilibrar a profissão com o descanso é o ideal, mas “não é fácil” – para Paula, isso é algo que “quem quer ser jornalista” percebe.
“Já estamos tão overloaded, tão sobrecarregados, que enfim… [o trabalho] não flui da mesma forma, e não é isso que queremos”, conclui.
O jornalismo é um bem público
David Pontes, diretor-adjunto do “Público”, tinha acabado de sair de uma vídeoconferência quando foi contactado pelo JPN. Estas formas de comunicação à distância, brinca, são algo “vulgar” nos tempos que correm. O diário está em modo de trabalho remoto desde o dia 17 de março.
Fechado em casa, o jornalismo continua, ainda assim, a “tentar ir onde é possível”. David Pontes refere que não tem havido “constrangimentos” nas saídas para o terreno – as que existem limitam-se “àquilo que é indispensável”, justificando-se com realidade do que se passa no país. “Na primeira hora em que se soube que iriam fechar Ovar, a primeira coisa que nós fizemos foi, obviamente, despachar uma pessoa para essa zona, porque poderiam de facto encerrar [a cidade] e nós não conseguirmos entrar”, exemplifica.
Para o diretor-adjunto do “Público”, o jornalista tem como obrigação “estar nos sítios onde as outras pessoas não podem estar” e servir de intermediário para “ajudar a ler o mundo”. Mas esse não é o único dever a cumprir: em tempo de pandemia, os jornalistas têm de tomar os devidos cuidados nas movimentações. O “Público” não é exceção, com os repórteres a serem aconselhados a seguir as indicações fornecidas à generalidade da população, como lavar as mãos e manter a distância social na medida do possível, explica David Pontes.
Contudo, não é só quem sai de casa que teve de adaptar as suas rotinas. Os jornalistas que permanecem entre quatro paredes aderiram a hábitos de comunicação diferentes, remotos e digitais. A dinâmica habitual da equipa do “Público” mantém-se agora com o auxílio de chat rooms [grupos de conversa] por vídeo e do WhatsApp. Os novos métodos já se aplicam, por exemplo, na reunião que o jornal tem às nove da manhã “para alinhar aquilo que aconteceu durante a noite e os resultados da edição do dia anterior”, conta David Pontes.
Apesar das contingências provocadas pela ausência de uma convivência diária, pretende-se que exista na mesma um “espírito de partilha, de conversa, de comentário” através destas ferramentas, sublinha o diretor-adjunto do “Público”. Esse “diálogo permanente” também se verifica no acompanhamento ao minuto da pandemia de COVID-19, uma vez que, sendo um “dispositivo editorial que não é alimentado por uma pessoa ou secção” mas sim por todas, obriga a uma comunicação entre as várias componentes do jornal.
Ainda não é certo que seja possível ficar imune ao novo coronavírus, embora uma coisa seja certa: uma equipa de jornalistas não é imune ao cansaço. A pensar nisso, David Pontes diz que estão a ser desviadas “pessoas de secções que estão menos assoberbadas de trabalho para as secções que estão mais empenhadas na cobertura noticiosa” da pandemia de COVID-19.

O diretor-adjunto do “Público” não tem memória de nenhum outro evento “em que as redações tenham ficado, de repente, tão monotemáticas”. “Eu acho que isto ultrapassa tudo, porque atinge os países todos de uma maneira nunca vista no nosso quotidiano”, admite. O volume de artigos que não estão diretamente relacionados com a pandemia “diminuiu muito” e esse noticiário está reduzido a “10, 20% daquilo que é normal” — isto porque a COVID-19 ocupa as preocupações, fazendo com que algumas secções fiquem “muito limitadas”. O caso mais evidente, sublinha David Pontes, é o de Desporto: a competição desportiva parou, e com ela veio o enorme desafio de haver “muito pouco para contar”.
“Ficamos todos maluquinhos a ver filmes de corridas de berlindes. É o que nos resta”, diz, entre gargalhadas, referindo-se ao vídeo viral que circulou pela altura da entrevista ao JPN.
Mas, enquanto a atividade de algumas secções estancou, os suplementos foram obrigados a repensar os conteúdos para corresponder às novas necessidades dos leitores. “Todos os dias temos de pedir à malta que faz o Ípsilon, ou a quem faz o Fugas, para usar alguma imaginação para encontrar tópicos”, confessa David Pontes. Com o avanço da quarentena no tempo, vem uma certeza: “mais pessoas quererão encontrar alguns escapes”. “Temos de continuar com ideias”, sustenta o diretor-adjunto — e isso implica acabar com “praticamente todos os roteiros de cinemas e teatros” e antes criar um “roteiro próprio para as pessoas ficarem em casa”.
Num cenário imprevisível como o da pandemia, não há guião que permita antever o funcionamento dos postos de venda da edição impressa do jornal. David Pontes nota uma “sensação de desorientação completa nas vendas” – de tal maneira que há tabacarias que, de um momento para o outro, querem fechar contas e encerrar, e depois percebem que, afinal, têm condições para estar abertas e pedem inclusivamente aumento de tiragem, explica o jornalista. Ainda assim, o panorama é de uma diminuição “muito preocupante” das vendas e, também, de uma quebra “tremenda” nas receitas publicitárias.
A sustentabilidade do diário está, por isso, em parte dependente das assinaturas digitais. O número de assinantes tem sofrido um “razoável aumento” neste período, sobretudo após um apelo lançado pelo diretor do “Público”, refere David Pontes. “Para nós continuarmos a fazer o que fazemos, precisamos que aqueles que confiam em nós materializem isso de alguma forma – nomeadamente, assinando conteúdos”, salienta.
Em tempo de insegurança, há a força de uma missão: a de informar. E David Pontes não crê que essa insegurança se intrometa no trabalho do jornalista porque, na ânsia de fazer chegar “a melhor informação”, a questão nem se coloca. “Esse sentido de missão dá-nos um bocadinho mais de força do que se estivéssemos abandonados a olhar para a nossa empresa, ou para o nosso restaurante que não funciona. Essa é uma sensação de insegurança maior do que, se calhar, só aquela do vírus”, garante.
A Lusa chega a todo o lado – mesmo sem sair de casa
Com o cancelamento da maioria dos eventos culturais, o volume de artigos que Tiago Dias edita diminuiu. Para o editor adjunto de Cultura da Lusa, a chave para contornar essa redução tem estado na procura da criatividade “face ao que se está a passar”, começa por contar ao JPN. Mas esse exercício acarreta algumas dificuldades: “Tudo o que não seja a doença, neste momento, passa um bocado ao lado da atenção das pessoas”.
Assim, há uma diferença que, segundo Tiago Dias, merece ser considerada no momento de enfrentar o problema. Uma coisa “é contornar totalmente” a redução do volume de artigos de Cultura, observa o editor – ou seja, “escrever sobre assuntos que não são a COVID-19 e que se perdem”. Outra é “contornar dentro do contexto da doença, e pensar em algo que ainda não se tenha feito até aqui”. Tem sido esse o desafio.
Ao mesmo tempo que se faz “o possível” dentro das circunstâncias, o acompanhamento dos assuntos da área prossegue. Tiago Dias oferece alguns exemplos: “Hoje [24 de março, dia da entrevista ao JPN] morreu um artista do panorama mundial [o ilustrador Albert Uderzo]. Ontem, houve uma morte no fado [o guitarrista Carlos Gonçalves]. Continua a haver algum prémio, algum acordo de distribuição de uma obra literária ou cinematográfica. Isso continuamos a fazer”, sublinha.
Em casa há duas semanas, desde que a delegação da Lusa no Porto encerrou, pouco mudou na rotina de Tiago Dias à exceção do horário que costumava praticar.

No Porto, a Lusa está funcionar completamente em regime de teletrabalho, refere Tiago Dias. Contudo, a palavra não é de todo desconhecida para quem integra a agência de notícias, uma vez que a equipa já está bem familiarizada com este modo de trabalho à distância. “A Lusa tem uma rede muito grande de jornalistas no terreno, dispersos pelo país e a nível internacional, e praticamente todos esses trabalhavam de casa, em regime de teletrabalho”, explica o editor ao JPN. Em tempo de pandemia, o que se fez foi “aplicar as condições vigentes para quem já estava em teletrabalho a pessoas que trabalhavam ou na sede, em Lisboa, ou nas delegações”. A cobertura noticiosa continua a ser feita.
Em caso de serviços externos, estão reunidas as condições necessárias à concretização do trabalho, diz Tiago Dias. A Lusa assegura, entre outras medidas previstas no plano de contingência, o “pagamento devido da deslocação” e trata da “disponibilização de kits de máscaras e luvas”.
Saídas, essas, que são muito poucas “porque a agenda diminuiu drasticamente”, nota o editor adjunto de Cultura da Lusa. As conferências de imprensa da DGS, por exemplo, são acompanhadas no local, constituindo uma “saída apesar de tudo”, admite Tiago Dias. “Há casos imperdíveis”.
Dividir para resistir: com as redações partidas ao meio, a RTP continua a trabalhar por todos
Na RTP, os planos começaram a ser feitos logo no início do ano. “Decidimos que iríamos colocar uma bolsa de, mais ou menos, 20 a 25% das pessoas em regime de teletrabalho – uma chamada bolsa de prevenção, pessoas que estão a trabalhar a partir de casa”, conta Hugo Gilberto, diretor adjunto de informação da RTP.
“Não dá para ser mais, porque o jornalismo televisivo é um trabalho de equipa, exige sair ao terreno e fazer reportagem”, lembra.
Para além das bolsas, houve também mudanças na estrutura física. “Uma parte da redação ficou num piso, a outra parte ficou noutro piso, para evitar, assim, ainda mais contacto”, descreve Hugo, lembrando que as alterações se fazem “à custa do espírito de sacrifício de pessoas, que trabalham mais dias seguidos para que possa haver essa bolsa a trabalhar em teletrabalho”.
“Toda a gente percebeu que havia uma emergência também no jornalismo, e que a RTP é, também, um serviço público. É um serviço público de informação. Não somos tão relevantes quanto os médicos, mas também é muito relevante a tarefa de informar os portugueses”, refere.
Uma missão que continua a ter de respeitar “o critério da notícia”, recorda Hugo Gilberto. “Temos a obrigação de informar os portugueses e, portanto, havendo uma notícia que justifique a ida para a rua, nós não podemos ficar em casa”.
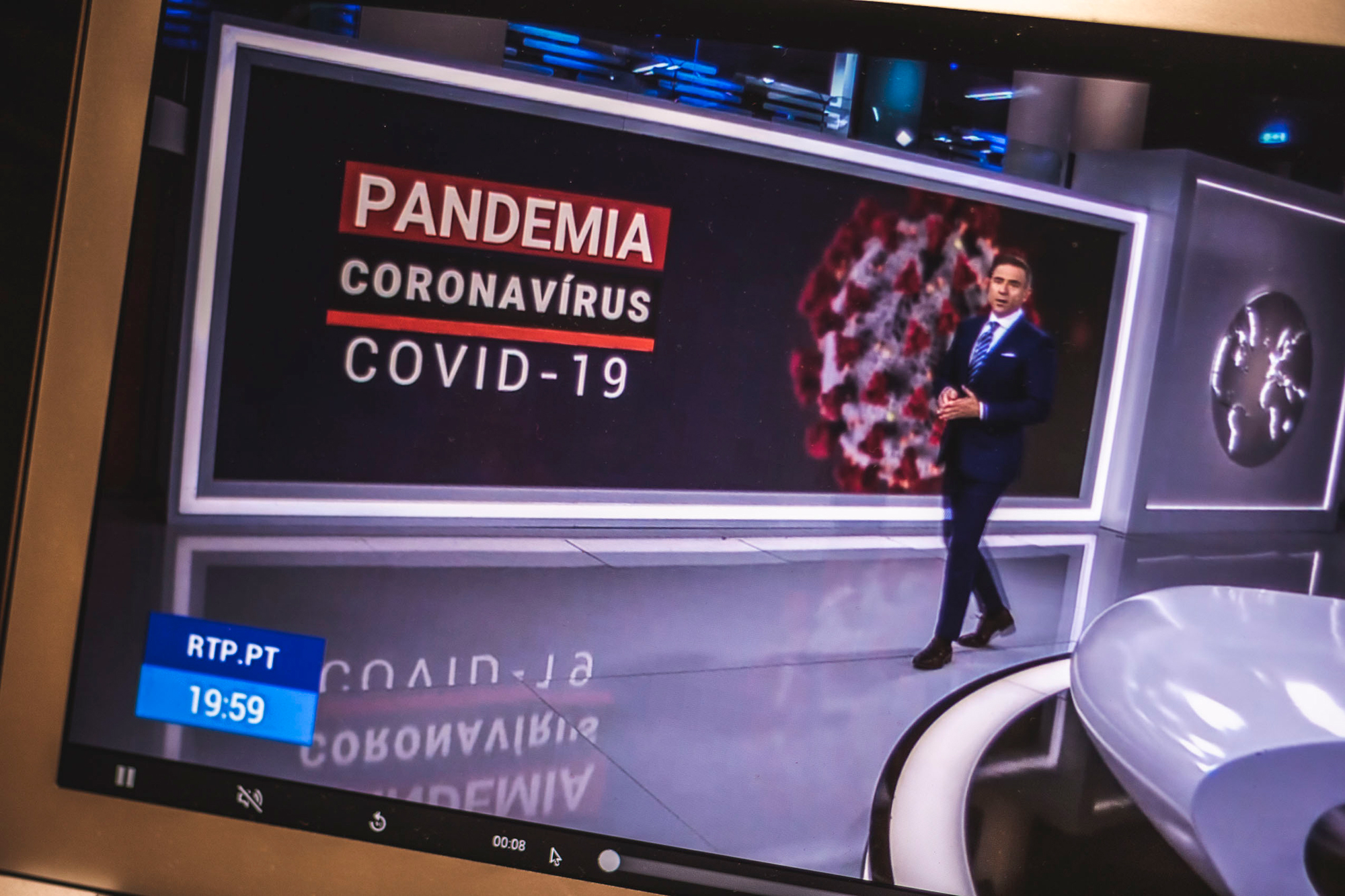
Apesar disso, são cumpridas várias regras para garantir a segurança: máscaras, distância em relação aos entrevistados, invólucro de plástico nos microfones, soluções alcoólicas para lavar as mãos em vários sítios da empresa. “Ou seja, prevenção, prevenção, prevenção, prevenção”, resume.
Há também “menos captação de imagem direta do repórter de imagem”, admite Hugo Gilberto. “Mas os nossos repórteres de imagem continuam na rua, a recolher imagens com o jornalista ou a equipa de reportagem. Obviamente que o Skype e o drone ajudam.”
“Tentamos usar imagens o mais atuais possível. Esta é uma altura em que as pessoas nos procuram ainda mais – há muito mais gente a querer ver televisão, a querer ser informada”, diz o diretor adjunto de informação da televisão pública.
No meio do caos, os jornalistas da RTP tentam nem ser “alarmistas nem profetas da desgraça; nem, ao mesmo tempo, arautos de uma esperança infundada se não for caso disso”, descreve Hugo Gilberto. “Nem fazermos de conta que isto não é grave, nem fazermos de conta que isto é pior do que aquilo que é. Portanto, pugnamos e primamos pela objetividade, pela não adjetivação”, garante.
A “centralização” que esquece o que se passa fora dos grandes centros
“De momento não tenho feito nada, praticamente”, diz Miguel Midões, jornalista freelancer e correspondente da TSF na região Centro-Litoral do país. Antes da pandemia, o repórter “facilmente” estaria a cobrir temas “muito diferentes” em sítios distintos da região, conta ao JPN.
A rotina alterou-se “bastante”. Se antes o trabalho de correspondente implicava a concretização de peças e reportagens para as secções de Política, Economia, Desporto e Cultura, agora há uma quebra “grande de procura de trabalho”. Aquele que é feito, explica o jornalista, é monotemático. “É só COVID-19. E o que fazemos é por vídeochamadas: separamos o áudio e trabalhamos o áudio para os trabalhos que apresentamos em antena”.
Para exemplificar o quanto “a sociedade parou” naquela zona, Miguel Midões dá o exemplo dos e-mails que recebe das fontes de informação locais. “Eram diariamente entre 20 e 30, sempre de várias instituições a tentar comunicar aquilo que têm estado a fazer. Neste momento, é uma quebra enorme: eu estou a receber cinco, seis e-mails por dia”. E todos sobre a pandemia, o que “limita a possibilidade de fazer outro tipo de trabalhos”, salienta.
O correspondente da TSF fala numa “centralização muito grande” das notícias associadas à COVID-19 em pontos que “não passam, neste momento, por Coimbra e por Aveiro”. Ao invés, a informação está, para Miguel Midões, concentrada nas regiões que constituem “o foco da pandemia”: o Norte e a região de Lisboa. É na última que estão as “entidades decisoras”: “as fontes são sobretudo institucionais e estão, precisamente, em Lisboa”, nota ao JPN o também professor universitário.
“Tenho a certeza que a situação se vai agravar. Acho que há meios que vão fechar depois disto.”
Este domingo (05), em comunicado, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) voltou a apelar a que fossem reportados “para o e-mail [email protected]”, entre outras situações, casos de despedimentos. E referiu mesmo que esse é um cenário que “já está acontecer”.
O futuro não é animador. Ao JPN, Sofia Branco, presidente do SJ, traça um cenário negro para o futuro do jornalismo em Portugal.
Sofia Branco mostra-se preocupada com os precários, jornalistas que ocupam lugares nas redações a recibos verdes: “Isso vai ser muito difícil”, desabafa.
“Vão ser situações muito complexas porque, na verdade, não sei que proteção é que vai haver para esses casos.”, confessa a presidente do SJ. À situação complicada e preocupante, acresce a falta de “indicações muito precisas”.
Mas as dificuldades não se limitam aos jornalistas que já estão no mercado. Os estudantes recém-licenciados em Ciências da Comunicação terão ainda mais dificuldades em arranjar emprego no meio, teme Sofia Branco.
“Isto vai ser ainda mais complicado. Já é um setor onde a procura ultrapassa a oferta, e vai ser muito mais difícil daqui para a frente. Isto vai demorar muito tempo a voltar. Acho que não vai voltar sequer”, lamenta.
“Parece-me um bocado pessimista, coisa que nem sou muito, mas de facto acho que temos de contar aqui com um cenário que já era complicado, e vai ser negro neste setor se não houver medidas verdadeiras, apoios de grande substância. E não temos indicação de que vá haver. Vai ser mesmo muito complicado”, diz.
“Todos” os meios de comunicação preocupam Sofia Branco, “excetuando os do setor empresarial do Estado”, como a RTP e a Agência Lusa, “que ficarão sempre, ainda que com menos recursos – e isso também seja uma questão”. Ainda há “alguns grandes grupos que não estão tão deficitários”, mas que para a presidente do SJ “vão ter na mesma dificuldades”, como a Impresa e a Cofina.
“São grandes grupos, o que não quer dizer que não venham a ter de prescindir de algumas coisas, ou dispensar algumas pessoas”. “A questão é que os outros não sei como se vão aguentar”, admite Sofia Branco. “Vamos ver”, conclui.
Artigo editado por Filipa Silva






