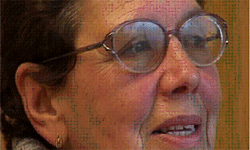Maria José Ribeiro nasceu em 1936, dez anos depois de ser instaurado em Portugal o Estado Novo. Com apenas nove meses, viu o pai partir para o Tarrafal, deixando para trás a esposa e a filha bebé. Só o voltaria a ver 16 anos depois.
Durante esse período, sem nunca perceber bem porquê, Maria José cresceu na companhia de mulheres, a mãe e a avó, ambas a desempenhar um duplo papel enquanto substituíam os maridos ausentes, uma situação que se tornava cada vez mais comum, proporcionalmente ao número crescente de presos políticos.
Consciente desde cedo das desigualdades e injustiças que reinavam na sociedade da época, Maria José envolveu-se em comissões de jovens, de oposição ao regime, e colaborou activamente na campanha de apoio à candidatura de Humberto Delgado. Nessa altura, já escrevia textos de defesa do respeito pelas raparigas e pela Igualdade de Direitos entre homens e mulheres.
Cresceu, casou, mas não tardaria a seguir os passos do pai e a sentir na própria pele o significado da privação da liberdade: “Namorava com um rapaz de Lisboa e casei. Quinze dias após ter casado, batem-me à porta. Era a PIDE. Trouxeram-me para o Porto”. Maria José esteve presa durante nove meses com mais vinte jovens. “Fomos a julgamento e fui absolvida. Durante o período de prisão, não fui maltratada fisicamente, porque tinham um meio psíquico para me maltratar e pressionar, que era o problema do meu casamento. E pressionaram muito fortemente, de tal forma que o meu casamento acabou”, conta Maria José.
Foi o fim de um casamento, mas o começo de uma longa luta que travaria pela vida fora, com prisões e violência pelo meio que iriam marcá-la para toda a vida. Mas os seus objectivos “justificavam tudo”: pôr fim à difícil condição da mulher e atingir a tão desejada igualdade de direitos.
“Gostávamos de fazer só o que era proibido”
Maria José Magalhães também se apercebeu muito cedo das desigualdades que reinavam na sociedade portuguesa da época. Desde logo, porque no colégio onde estudava, em Castelo Branco, e como acontecia em muitas outras escolas espalhadas pelo país fora, rapazes e raparigas estudavam separados. A distinção começava logo aí.
Esta professora universitária, e autora de vários livros sobre direitos da mulher, lembra-se das “partidas” que pregavam ao director da escola, resultado da ingenuidade e rebeldia características da idade. “Gostávamos de fazer só o que era proibido. E, mesmo não sabendo bem o que é que se passava, íamo-nos apercebendo daquilo que era permitido e o que não era”, recorda.
Desse tempo, Maria José colecciona várias histórias que nunca esqueceu. “Lembro-me de uma altura em que espalhámos panfletos pela escola fora, mas que não passavam de papéis em branco. Foi muito engraçado, porque o director foi logo apanhar tudo, com receio das ideias subversivas que andaríamos para ali a passar”, conta com um sorriso, enquanto se vai lembrando de outras peripécias. “Eu não sabia quem era Lenine, e quase ninguém dos meus colegas sabia, mas quando nos apercebíamos de que andava alguém da PIDE por perto, adorávamos dizer alto para que nos ouvissem: “Lenine, Lenine, Lenine!”.
Maria José Magalhães não chegou a sentir na pele qualquer tipo de repressão. Mas soube o que era perder alguém querido, alguém que desapareceu sem se despedir e sem dizer para onde ia: “Houve muita gente à minha volta que simplesmente desapareceu sem deixar rasto. Pessoas que nunca mais voltei a ver”.